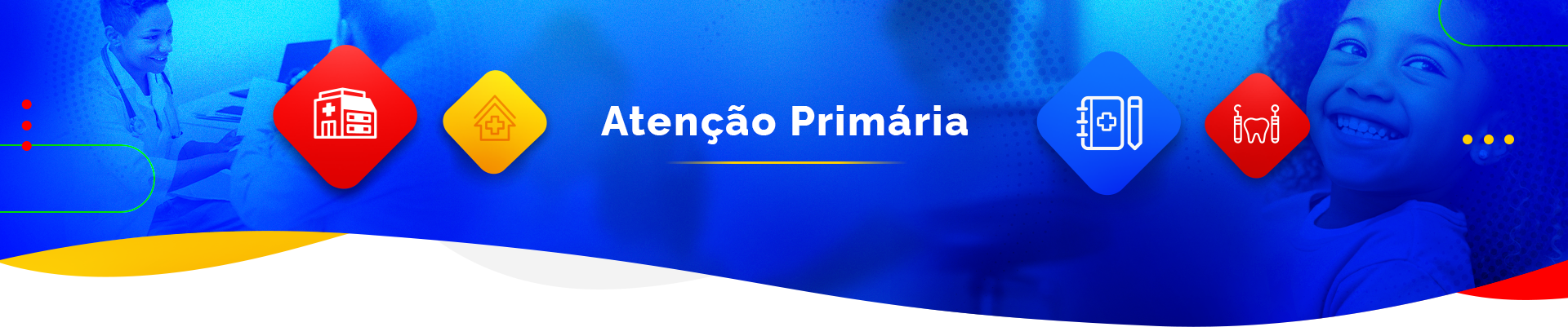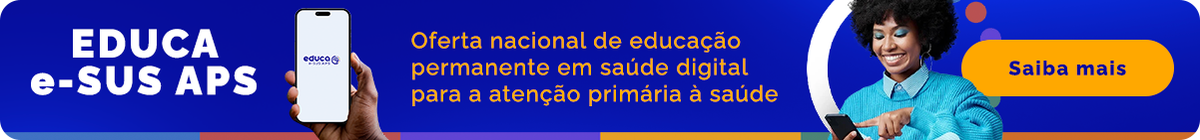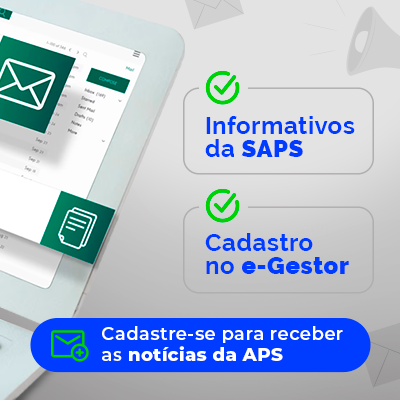Sobre a Secretaria
A Atenção Primária à Saúde é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.
Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.
Notícias
DIREITOS HUMANOS
Saúde lança nota técnica com orientações de atendimento a migrantes, refugiados e apátridas
Material de boas práticas é inédito e voltado a gestores e profissionais de saúde. Nos últimos dez anos, mais de meio milhão de migrantes foram cadastrados na rede
OLHO NO RÓTULO
Ministério da Saúde alerta para a importância da rotulagem nutricional nos alimentos
Selo com a imagem de uma lupa no rótulo dos produtos avisa sobre a presença de nutrientes críticos. Lista de ingredientes também deve constar nos alimentos